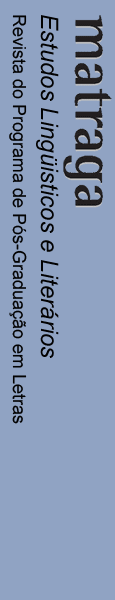MATRAGA 21
A LITERATURA E AS ARTES, HOJE: O TEXTO COPROFÁGICO
Solange Ribeiro de Oliveira (UFMG/UFOP)
RESUMO
Após recapitular os fundamentos da arte abjeta e da body art, o texto analisa algumas de suas manifestações contemporâneas, tanto nas artes visuais quanto na Literatura, especialmente na poética de Glauco Mattoso. Na tradição de autores fesceninos como Gregório de Matos, Mattoso faz do texto coprofágico um instrumento de crítica de costumes e de sátira social. PALAVRAS-CHAVE: arte abjeta, texto coprofágico, Glauco Mattoso, literatura e as artes brasileiras contemporâneas
The whole universe stinks
Samuel Beckett, Endgame.
A recapitulação de algumas considerações a respeito da arte abjeta e de seus congêneres, centrados em objetos repulsivos, em exibições de dor ou de violência, constitui um preâmbulo necessário para o estudo do texto literário aqui exemplificado, entre outras, pela produção de Glauco Mattoso, pseudônimo de Pedro José Ferreira da Silva. A poética de Mattoso, por ele próprio batizada de coprofágica (termo inspirado no modo de alimentação de certos insetos e aves, que se nutrem de esterco), encarna exemplarmente o viés literário de uma produção importante para o cenário contemporâneo: a arte abjeta. Radicalizada, ela constitui uma das formas cruciais de tratar a degradação, a dor e a violência, temática desafortunadamente essencial para o estudo da cultura atual. Afinal, como lembra Hal Foster, o sofrimento humano foi o produto cultural mais importante do “breve século XX”. Com essa afirmação, Foster endossa os julgamentos convergentes de pensadores e artistas, resumidos nas palavras de Eric Hobsbawn:
Sem dúvida [o século XX] foi o século mais assassino de que temos registro, tanto na escala, freqüência e extensão da guerra que o preencheu, mal cessando por um momento na década de 1920, como também pelo volume único das catástrofes humanas que produziu, desde as maiores fomes da história até o genocídio sistemático... (HOBSBAWN, 1994, p. 22)
Explica-se assim a freqüência de uma arte centrada no corpo, em seu sofrimento, também em suas funções, especialmente aquelas que, conforme o estudo canônico de Julia Kristeva sobre o abjeto, o sujeito busca ignorar, “pôr de lado”, “jogar para baixo”, por serem consideradas sujas ou vergonhosas. A noção é confirmada pela etimologia da palavra, do latim abjetum, “atirado por terra, derribado”. O artista do abjeto volta-se contra essa interdição. Ao fazê-lo, muitas vezes critica a sociedade contemporânea, que, centrada na produtividade e nas seduções do consumo, finge ignorar várias das experiências humanas mais básicas. Nos termos da semiologia espacial, que investiga o espaço enquanto construto social, o abjeto, assim refugado, prende-se à dimensão horizontal, arquetípica construção do imaginário, ligada à terra e aos instintos. Para teóricos como A. J. Greimas, Henri Lefebvre e Gilbert Durant, o horizontal associa-se emblematicamente com o baixo ventre, os impulsos carnais, os espaços subterrâneos, “clandestinos”, da fecundidade feminina, da defecação, da queda espiritual e do erotismo anal.
Essas considerações da semiótica espacial podem articular-se proveitosamente com as de Georges Bataille e da própria Kristeva, teóricos do abjeto, que também o relacionam com a dimensão horizontal. Como na linguagem verbal, a mensagem espacial veiculada pela horizontalidade define-se através da diferença. Opõe-se, pois, ao esquema ascensional da verticalidade, com sua tríplice conotação de poder, exibição fálica e espiritualidade – esta última exemplarmente ilustrada pela catedral gótica1. Na dimensão vertical, que é a do sursum, da espiritualidade, do movimento ascensional em direção à luz, o imaginário projeta a transcendência, o anseio por escapar às forças do tempo e da morte. No esquema oposto, a dimensão horizontal evoca o mundo subterrâneo, emblemático da queda, das trevas, da humildade, da degradação.
Nesse campo, cada vez mais explorado a partir do Romantismo, e também em certas vertentes da body art, projeta-se, pois, o abjeto. Súmula dos aspectos recalcados da economia corporal, escamoteados do discurso social, ele acolhe o repulsivo, o chocante, o aterrador. Aliada a ele, a arte, que já se quis mediadora do universal, volta-se para o “real” mais sórdido, obriga o mundo contemporâneo a encarar questões não resolvidas pela tecnologia, com suas promessas de tudo solucionar.
Quando se trata de encenações da dor, o sofrimento já não é mediado, como na arte clássica, pela articulação com a beleza, que leva à identificação com a criatura sofredora. O espectador não é convidado à contemplação enlevada. A visão do corpo, de seu sofrimento, ou de sua miséria, inspira repugnância e desprazer. A body art e a arte abjeta, nada têm, pois, do delectare da doutrina horaciana. É o que evidenciam inúmeras criações visuais como as de Andrés Serrano, com seu erotismo cru, genitálias escancaradas e espetáculos de defecação.
Com o delectare, terão essas produções perdido também o prodesse, a função didática, e seu parente próximo, a crítica social? Quero crer que não. A esse respeito, ocorre-me uma reflexão de Hal Foster. Em longa e complexa argumentação, Foster retoma a clássica análise de Kristeva sobre o abjeto como algo que, embora extrema-mente próximo, provoca pânico, forçando o sujeito a afastá-lo de si. O abjeto, segundo Foster, toca a fragilidade de nossos limites, da distinção entre o interior e o exterior de nossos corpos, bem como a passagem temporal entre o corpo materno (reino privilegiado do abjeto) e a lei do pai. Assim, tanto espacial quanto temporalmente, a abjeção é uma condição perturbadora da subjetividade. Nela “o sentido desmorona”. Daí sua atração para os artistas da vanguarda, desejosos de perturbar igualmente os ordenamentos sociais e os do próprio sujeito (FOSTER, 1996, p. 153).
Foster não nega a crucialidade da formulação de Kristeva, sobretudo para a análise das subjetividades racista e homofóbica. Contudo, busca ir além. Discute, por exemplo, estratégias da arte abjeta que considera problemáticas. Mais importante, a meu ver, é sua argumentação quando busca perscrutar os objetivos da arte abjeta. Conclui que, não raro, ela serve à expressão de revolta contra nossa cultura, que se deixa balizar por termos normativos, como a repressão aos elementos anal e olfativo. A rebeldia do artista pode conter algo de infantil ou de perverso, admite Foster. Entretanto, acredita o crítico, pode também constituir uma denúncia à ideologia, ao rompimento do contrato social, um protesto contra o mundo de fantasia engastado no consumismo. Foster menciona ainda outras forças, subjacentes às artes do abjeto e do traumático, que impelem à resistência: o desespero diante da pobreza e do crime sistêmicos, ou de crises como a trazida pela AIDS. Nesse contexto, o corpo ofereceria uma base essencial para o testemunho da verdade, para a denúncia aos detentores do poder, responsáveis por boa parte da dor e da degradação humana (FOSTER, 1996, especialmente p. 160-166). A análise de outro crítico, Arthur Danto, assemelha-se à de Foster. Danto lembra que a arte abjeta, como o ideal do belo, cultivado em outros tempos, é um dos mecanismos de aculturação. Ao provocar nojo, o abjeto excita a indignação do espectador. Dependendo do artista, e do efeito pretendido, também o belo poderia inspirar essa reação. Os dadaístas, por exemplo, certamente não desaprovariam a retórica do feio, do repelente. Para eles, a beleza, produto de uma sociedade corrompida, é que deveria inspirar nojo. Nessa linha de raciocínio, em determinados contextos, os artistas do abjeto podem ser rotulados de moralistas e suas obras consideradas meios para fins edificantes. É o que proclama Danto (2003, p. 59) sobre o trabalho do artista norte-americano Paul Mc Carthy, autor de esculturas e vídeo-instalações bastante afins à arte abjeta, como testemunha um de seus títulos, Excremental Syrup, “Xarope de Excrementos”. Através da repugnância, o escultor/vídeo-artista parece pretender alertar o espectador contra coisas indesejáveis ou terríveis. A presunção desse objetivo permite absolver pelo menos parte da arte abjeta e da body art da possível acusação de mero exibicionismo, ou do simples desejo de épater le bourgeouis.
A sinalização de objetivos parece-me essencial. Como lembra Danto, o abjeto não subsiste em si mesmo. Para ser eficaz, precisa apontar um alvo. Embora os neo-dadaístas já não nutram a esperança de reformar o mundo renunciando à beleza, alguns artistas – entre eles os praticantes da arte abjeta – ainda esperam denunciar injustiças e aberrações do aparato social. Nas artes visuais, ocorre-me o exemplo de uma instalação apresentada em 2006, na 27ª Bienal de São Paulo, intitulada Sabores y Lenguas, do artista espanhol Antoni Miralda. O trabalho consistia de uma grande coleção de pratos representando iguarias da culinária internacional. Alguns poucos exibiam fezes, caprichosamente trabalhadas em forma de espiral, possível alusão à arte popular, em certos presépios da Catalunha. Essas composições, lembradas no Natal de 2006 (Uol online, acesso em 21/12/2006) incluem personagens escatológicas, os “caganers”. Colocadas a um canto, em posição de evacuar, as figuras, muitas vezes caricaturas de persona-gens famosos, têm sob as nádegas fezes em espiral, que, segundo a tradição, auguram fertilidade para a terra e sorte para a família até o próximo Natal. A ligação assim estabelecida entre a produção de alimento e a eliminação de dejetos lembra mais uma vez os dois extremos da cadeia alimentar.
Além da representação de iguarias, com sua rica diversidade cultural, e de fezes em espiral, a instalação Sabores y Lenguas incluía pratos contendo fotos de nádegas e seios. Criavam-se assim trocadilhos visuais, envolvendo os diferentes sentidos dos termos “comer” e “comida”. Conjugando o erótico e o alimentar, a instalação, do ponto de vista social, sugeria ainda uma reflexão sobre os alimentos sofisticados servidos aos privilegiados, junto dos quais a comida dos excluídos poderia parecer lixo.
O abjeto, explorado nas artes visuais, faz-se também presente em certos textos literários. Na literatura de expressão inglesa, destaco os nomes de David Foster Wallace, Jon Silliman, e John Giorno. Na Literatura Brasileira a sugestão do abjeto evidencia-se desde logo pela abundância de referências e títulos sintomáticos, como o Poema Sujo, de Ferreira Gullar, e a revista paulista Monturo, que congrega os poetas Tarso de Melo, Kleber Montovani e Fabiano Calixto. Não faltam poemas isolados, reveladores da mesma tendência, como “A escova no lixo”, de Cacá Moreira de Souza, construído a partir da palavra “lixo”, emblemática do fim de uma união amorosa:
a escova
no lixo
a lixa de unha
no lixo
o lençol de linho
sujo de lixo
...
(In: DANIEL; BARBOSA, 2002, p. 77).
Nesse texto a referência ao sujo e ao repugnante coexiste com o tom lírico. Essa convivência pacífica, inimaginável na poesia romântica, emerge também em ocasionais referências chulas. “Objeto de Amor”, de Adélia Prado, poeta conhecida pelo lirismo singelo e pelo culto a valores tradicionais, celebra resolutamente uma parte da anatomia humana geralmente ignorada no discurso polido:
Objeto de Amor
De tal ordem é, e tão precioso
o que devo dizer-lhes
que não posso guardá-lo
sem que me oprima a sensação de um roubo:
cu é lindo!
Fazei o que puderdes com esta dádiva.
Quanto a mim, dou graças
pelo que agora sei
e, mais que perdôo, eu amo.
(In: MASSI, 1991, p. 17.)
A voz lírica soa como um eco da Crazy Jane (“Joana Louca”), de W.B.Yeats:
A mulher pode ser soberba
Mesmo quando apaixonada,
O amor pôs sua morada
Junto ao lugar do excremento,
E coisa alguma é inteira
Não tendo sido rasgada
(YEATS, 1963, p. 292, minha tradução).
Como o texto do poeta irlandês, o de Adélia recusa-se a “jogar de lado” o “real”: lembra a proximidade dos órgãos do amor e da defecação, a inseparabilidade do limpo e do sujo, do belo e do feio, escamoteada pelo lirismo tradicional.
Em outros autores, a predominância do abjeto exige menção menos sumária. Impõe-se aqui o nome de Pedro José Ferreira da Silva.
Poeta, tradutor, ensaísta e articulista em diversas mídias, Ferreira da Silva é o criador da persona literária de Glauco Mattoso, pseudônimo construído a partir de trocadilho com “portador de glaucoma”, mal que progressivamente vitimou o poeta, da infância até a cegueira definitiva, aos quarenta anos, em 1995. O sobrenome fictício “Mattoso” remete também a Gregório de Matos, elegido pelo poeta seu antepassado literário. Desse modo, o brasileiro insere-se na tradição de autores fesceninos como Bocage, Aretino, Genet ou o próprio Gregório, exploradores do obsceno e do impuro, a serviço da crítica de costumes e da sátira social. Efetivamente, Mattoso alia o tema da cegueira à exploração da dimensão horizontal, com suas conotações de humilhação, degradação, e de erotismo anal. Sem cessar, a persona lírica explora a humilhação do cego, repetidamente apresentado como vítima de violência, especialmente através de uma sexualidade anal imposta por um vidente cruel. Essa temática constrói um análogo verbal do rosto sacral postulado por Bataille, que apresenta, como complementares, a face, centrada na boca, e as nádegas, cujo eixo é o anus (MORAES, 2002, p. 205-207, 210, 214-216).
Na poesia de Mattoso, os dois “rostos”, o oral e o anal, são freqüentemente aproximados. Submetida a uma mistura de humilhação e erotismo, a persona lírica encontra sua realização num masoquismo que também se deleita com percepções de imundície e maus odores. O sujeito poético faz do pé imundo que o submete a práticas humilhantes o seu fetiche amoroso – versão grotesca da Pata da Gazela, de Alencar, romance mencionado em um dos poemas. Que melhor ilustração se poderia encontrar da arte abjeta, em sua versão literária?
Centrado no orgânico — especialmente em excrementos e na genitália —, no culto ao feio, ao sujo, ao obsceno, ao repelente, o abjeto, que, em Mattoso, responde pelo nome de “coprofágico”, anuncia-se em muitos de seus títulos (às vezes resultantes de trocadilhos típicos, como em “Sonetário Sanitário”), “Sonetos Cariados”, “Sonetos Nojentos e Quejandos”, “Penso, logo cago”, “Memórias de um Puteiro”. Não poderia ser mais explícita a proposta de seu “Manifesto Obsoneto” (1981):
Quero a poesia muito mais lasciva,
com chulé na língua, suor na saliva,
porra no pigarro, mijo na gengiva,
pinto em ponto morto, xota em carne viva!
Ranho, chico, cera, era o que faltava!
Sebo é na lambida, rabo não se lava!
Viva a sunga suja, fora a meia nova!
(MASSI, 1991, p. 164)
Os últimos versos de “Manifesto Coprofágico”, composto no mesmo tom, proclamam a temática escolhida, ao mesmo tempo em que deixam entrever o propósito satírico:
ó merda com teu mar de urina
com teu céu de fedentina
tu és meu continente terra fecunda onde germina
minha independência minha indisciplina.
és avessa foste cagada da vagina
da américa latina.
(In: DANIEL; BARBOSA, 2002, p. 171)
Do ponto de vista formal, Mattoso, também autor de Dicionarinho do Palavrão & Correlatos, reivindica para si um estilo que ele próprio resume em alguns rótulos, quase todos neologismos: “coprofagia” (releitura escatológica da antropofagia oswaldiana), “pornosianismo” (apuro formal no tratamento de temas pornográficos), “datilograffiti” (linguagem chula de grafitos de banheiro levada ao papel por meio da máquina de escrever), “barrockismo” (procedimentos preciosistas, contrastantes com a vulgaridade da matéria trabalhada), “transficcionismo” (sonetos compostos de paráfrases de contos alheios). No conjunto, o estilo de Mattoso justifica esses rótulos, embora nem sempre os poemas – às vezes prejudicados por versos claudicantes e rimas forçadas – alcancem o apuro formal alegado. Mattoso também cultiva o experimentalismo paródico freqüente na produção literária contemporânea, do modernismo até o underground. De 1970 a fins dos anos 80 (sua “fase visual”, correspondente ao período anterior à cegueira), aproxima-se, sobretudo, do concretismo, e privilegia o estrato gráfico do texto. A partir de 1999 (sua “fase cega”) passa a compor sonetos e glosas, marcados por técnicas barrocas, aliadas a lingua-gem coloquial e chula. Na virada do século, por meio da internet e da
computação sonora, compõe textos virtuais, em seu sítio pessoal ou em revistas eletrônicas. Entre os neologismos típicos, destaco dois, referentes a sua temática: “podorastia” (obsessiva atração por pés masculinos, chatos, sujos e malcheirosos) e “xibunguismo” (temática autoflagelativa), associada à glosa de motes, ora correntes, ora cunhados pelo autor, ora retirados de versos alheios.
Um dos textos mais conhecidos de Mattoso, “Spik Tupinik” (que teria inspirado a canção “Língua”, de Caetano Veloso), revela a proposta de filiação de sua coprofagia à antropofagia oswaldiana:
Sou luxo, chulo e chic, caçula e cacique.
I am a tupinik, eu falo em tupinik.
(In: DANIEL; BARBOSA, 2002, p. 165).
Mattoso retoma a questão em Manual do Podólatra:
Fiz a apologia da merda em prosa & verso, de cabo a rabo. Na prática eu queria dizer pra mim mesmo e pros outros: ‘Se no meio dos poucos bons tem tanta gente fazendo merda e se autopromovendo ou sendo promovida, por que eu não posso fazer a dita propriamente dita e justificá-la?’ (...) Já que a nossa cultura (individual & coletiva) seria uma devoração da cultura alheia, bem que podia haver uma nova devoração dos detritos ou dejetos dessa digestão. Uma reciclagem ou recuperação daquilo que já foi consumido e assimilado, ou seja, uma sátira, uma paródia, um plágio descarado ou uma citação apócrifa. Essa postura ‘intertextual’ agradou a crítica, e cheguei a ser qualificado como um ‘enfant terrible’ de Oswald de Andrade. (Cf. <http:// glaucomattoso.sites.uol.com.br>. Acesso em: 5 set. 2006.)
Seria a criação de uma neo-antropofagia literária a única razão para a adesão à arte abjeta? Acredito que não. O poeta terá, certamente, outras motivações. Em diversos poemas, a referência ao asqueroso expressa um profundo sentimento de humilhação, auto-abjeção e autorejeição, provável decorrência da cegueira. Numa postura servil, coerente com a horizontalidade da auto-humilhação, a persona poética prostra-se diante do vidente que o insulta e o explora sexualmente.
A propósito da cegueira, incansavelmente focalizada, Mattoso proclama recusar a atitude politicamente correta, que promove a dignidade e a auto-estima do portador de deficiência. O poeta prefere o que chama de “desumanismo”, uma espécie de distanciamento irônico, despido de piedade, saturado de sarcasmo e humor negro. Os temas tratados incluem violência, tortura, trotes estudantis, seqüestros e choques entre territórios do rock ou torcidas de futebol. A postura batizada de “desumanista” emerge em inúmeros poemas, projetando a persona poética como cego humilhado, vítima e cúmplice de constante abuso sexual, aceito passiva e até masoquistamente. A voz lírica explicita o abuso que apresenta como constantemente imposto ao cego:
De jeito e sem dó me pega
Um marmanjo, que me enraba
E depois me menoscaba:
“Pude iludir uma cega!”
E o coitado aqui lhe entrega
A boca ao chouriço cru!
Explicita-se também o prazer do cego em beijar o pé que o espezinha – daí sua “podofilia”, a adoção, como fetiches eróticos, do pé agressor e de seu calçado imundo.
Vim ao mundo com defeito,
Fadado a ser masoquista. (”Motes Glosados”)
........................
Não conhece o meu prazer
Quem chulé nunca lambeu! (“Os Segredos do Caralho”)
Não se poupam detalhes ao leitor. Entre as muitas descrições chocantes, seleciono esta: Ninguém aprende na escola tratamento relaxante nem massagem que suplante
o cego lambendo sola!
Sua língua até extrapola
o maior tesão que exista!
No cheiro se encontra a pista:
seu fraco consiste nisso
e, ao sentir chulé, submisso,
faz melhor que massagista!
“Soneto Desolado” chega a apresentar como consoladora a repugnante sujeição:
um único consolo a mim me resta:
lamber a sola de quem tem visão.
“Soneto Chulinário”, título-trocadilho alusivo aos maus odores, iguala os prazeres da podofilia aos da boa mesa:
A massa, na italiana, é o que extrapola!
Mas meu amor ao pé se refestela
no aroma de chulé do gorgonzola!
“Soneto Cético” chega a aproximar o masoquismo do próprio processo da escrita:
Se um cego diz ser seu calvário horrendo,
coloque mais pimenta, que ele atura.
Se ser um masoquista é o que ele jura,
no máximo masturba-se escrevendo.
Através da escrita, a cegueira, aliada ao abjeto, torna-se arma satírica, invocada como resposta a críticas adversas. Mattoso defende-se da acusação de ser poeta de um assunto só afirmando que, para ele, a temática fecal não é fixação, mas “prefixação” ou “sufixação”. Entre vários depoimentos favoráveis sobre sua obra, cita o de Carlos Ávila, que fala de seu “humor fino, sempre inteligente, a mostrar por trás das corrosivas críticas um competente inventor de fórmulas”. Outro poeta-crítico, José Paulo Paes, ressalta a versatilidade de Mattoso e seu sucesso no projeto de dessacralização poética. Segundo Paes, o tratamento do que aqui denomino temática do abjeto, longe de constituir artifício gratuito, assume objetivos retóricos precisos. Servindo à sátira política, especialmente contra a ditadura instaurada a partir de 64: “Mattoso”, com sua “escrachada contestação do filisteísmo do Establishment político-militar pós-64 se constituiu, sem favor, no ponto mais alto alcançado pela imprensa alternativa ou nanica naqueles anos”, quando o poeta “combinava a tradição do Barão de Itararé com a do Marquês de Sade” (MATTOSO. In: MASSI, 1991, p. 165).
Indubitavelmente, boa parte da criação de Mattoso volta-se para a crítica social. À falta de outras fontes, o historiador do futuro poderia recorrer a seus poemas para ilustrar aspectos sensaborões da vida brasileira contemporânea. Em considerável número de sonetos, um olhar cáustico e perspicaz capta flagrantes da vida cotidiana, dos humildes freqüentadores de transportes populares, aos que asseguram a parca sobrevivência com atividades sub-remuneradas, sem esquecer os pequenos contraventores, os encarcerados e até os movimentos criminosos que, do fundo das prisões, desafiam os mecanismos de contenção. Sem totalmente descartar as metáforas derivadas de cheiros e espetáculos repulsivos, os sonetos falam do menor desvalido (Soneto 64, “Calçado”), da discutível recuperação a ele oferecida quando delinqüente (Soneto 384, “Passivo”), de modestas profissões criadas por imperativos da vida urbana (Soneto 538, “Motoboy”), da perseguição policial a vendedores ambulantes (Soneto 365, “Marreteiro”), das agruras do transporte ilegal (Soneto 366, “Perueiro”), do desamparo dos idosos (Soneto 815, “Da Terceira Idade Terceirizada”), da precariedade da habitação popular (Soneto 510, “Malocatário”), das desumanas condições carcerárias (Soneto 809, “Das Medidas Cirúrgicas”), do crime organizado nos presídios (Soneto 681, “Organizado”), da falta de segurança nas ruas, onde se roubam até parcos proventos de aposentados (Soneto 921, “Residual”). Lembrando a melancólica situação dos antigos trabalhadores, a voz poética devolve a Fernando Henrique Cardoso as expressões “vagabundo” e “nhem-nhem-nhém”, usadas pelo então Presidente para se referir aos aposentados e a manifestações contra seu governo:
No topo da pirâmide, porém,
alguém o xinga até de preguiçoso.
Governo vagabundo, vil, vaidoso
é aquele cujo papo é o nhem-nhem-nhém
(Soneto 368, “Aposentado”).
Não raro com toques de humor negro, os sonetos fustigam também os mecanismos a serviço de uma minoria privilegiada: a especulação financeira (Sonetos 760, “Da Bolsa Escrotal” e 835, “Da Avareza”), a tirania da propaganda e seus clichês lingüísticos (Soneto 537, “Manchetado”), os desmandos da polícia, a falta de verbas para a segurança pública (Soneto 841), a exploração de movimentos dos semteto (Soneto 748, “Das trouxas dos Trouxas”), o abusivo sistema tributário (Soneto 813, “Da Utopia Fiscal”), em contraste com a insuficiência do salário mínimo (Soneto 875, “Pontual”), as humilhações impostas a assalariados (Soneto 986, “Lateral”), o consumo desenfreado (Sonetos 897, “Comercial” e 898, “Promocional”), o contraste entre palacetes e moradas suburbanas (Soneto 938, “Perimetral”), a lentidão da justiça no atendimento aos pobres (Soneto 905, “Judicial”), práticas comerciais escusas (Soneto 920, “Capital”), etc., etc..
A extensa lista está longe de esgotar a denúncia de Mattoso às chagas sociais. Glosam-se a venda de medicamentos adulterados (Soneto 747, “Da Monstruosidade”), o uso, nos hospitais públicos, de remédios inadequados e com data de validade vencida (Soneto 885, “Ambulatorial”), a alegação da profissão de modelo como disfarce para a prostituição (Soneto 887, “Profissional”), a luta de classes vigente também no meretrício (Soneto 888, “Desigual”), a concessão de verbas a Ongs suspeitas (Soneto 895, “Não Governamental”), as desigualdades no acesso à educação (Soneto 730, “Esculachado”), as vãs promessas de políticos (Soneto 680, “Mensurado”), a perseguição aos movimentos estudantis (Soneto 771, “Agremiação”), a abundância da agricultura, que afronta a fome de multidões (Soneto 899, “Vegetal”), a perda de privacidade na sociedade dominada pela eletrônica (Soneto 984, “Global”), o luxo e a futilidade dos ociosos (Soneto 977, “Social”), a ditadura das teorias economistas (Soneto 985, “Central”). Como metáfora da conversão de todos os valores em mercadoria, o tráfico de drogas parece coroar a interminável lista de males sociais (Soneto 690, “Apaniguado”).
Ao desferir golpes em todas as direções, Glauco Mattoso, como acontece quando trata da cegueira, não faz questão de ser politicamente correto. Seu Soneto 530 (“Natitorto”) questiona os direitos humanos dos responsáveis por crimes hediondos. Soneto 211 (“Marxista”) registra uma postura ambivalente diante das lideranças indígenas. No Soneto 370 (“Sem-Terra”) é dúbia também a aceitação do Movimento dos Sem-Terra, embora o verso final lembre ainda o sonho socialista: “Quem disse que a utopia era defunta?”. Soneto 125 (“Incrível”) relativiza oposições maniqueístas como o contraste entre burgueses e trabalhadores, ou entre honestidade e o exercício da política. A voz poética recorre aqui à metáfora do tênis mal-cheiroso, familiar aos leitores de Mattoso:
Comenta-se que o tênis do burguês
exala odor mais fétido e malsão
que a bota do operário em construção
ou mesmo o borzeguim do camponês.
Será possível tanta estupidez?
Quem diz tal coisa incorre em prevenção,
pois nem todo político é ladrão,
nem todo ladrão fala economês;
Nem todo economista é um impostor,
nem todo impostor visa sempre o mal,
nem todo malefício causa horror.
Convém cheirar o tênis como igual
à bota e ao borzeguim no seu fedor.
O resto é discriminação nasal.
Com um ceticismo equânime, Soneto 141 (“Conformista”) ataca igualmente ditaduras da esquerda e da direita:
Os homens autorizam tiranias,
aprovam ditaduras de direita,
e mesmo o socialismo não rejeita
caudilhos que arremedam monarquias.
Soneto 892, “Policial”, faz uma crítica contundente às esquerdas:
O expurgo no partido governante
lembrou os velhos tempos da cultura
estrita e stalinista, quando a dura
e férrea disciplina era o talante.
A crítica de Mattoso também esboça retratos, geralmente pouco lisonjeiros, de personalidades políticas e de sua atuação. Soneto 453 (“Conto Olímpico”) já no título deixa entrever a postura atribuída ao “famoso sociólogo” que, na presidência do país, “contradiz o cacoete/ de quem estuda a classe mais sofrida”. Soneto 675 (“Justificado”), dirigido a Frei Beto, é mais explícito:
Até intelectuais tomam partido
do Estado, se o regime for de esquerda,
alheios ao que o povo tem sofrido.
Soneto 686 (“Escaldado”) fala da conduta atribuída aos habitantes das favelas, deixando para o leitor a tarefa de intuir a razão de o poema ser dedicado a outra figura pública – Benedita da Silva.
O mesmo se pode dizer de Soneto 694 (“Antecipado”). Dedicado ao líder sindical Vicentinho, versa sobre a perda de direitos trabalhistas. Mas Soneto 698 (“Sabatinado”), dedicado a João Pedro Stedile, deixa poucas dúvidas sobre a ação dos Sem-Terra. Para a persona lírica, o movimento acaba por espelhar a injustiça que combate:
Espelha-se o oprimido no opressor
e vítimas aprendem com carrascos.
Que o digam terroristas, como os bascos,
ou servos de Nabucodonosor.
(...)
Não se conclua que a sátira dos Sonetos visa apenas questões do cotidiano social e político. Ataca igualmente problemas internacionais: o militarismo, a luta armada (Soneto 273, “Bélico”), os confrontos de tiranos nos conflitos globais (Soneto 939, “Mundial”), o terrorismo internacional (Soneto 944, “Irracional”), a vacuidade dos apelos em favor da paz (Soneto 274, “Pacifista”), o jogo de poder no comércio internacional (Soneto 705, “Pechinchado”) e tantas outras questões de âmbito mundial. Finalmente, a denúncia se dirige contra um Deus que, no imaginário poético, seria o responsável último por tanta miséria, seja no pequeno mundo dos esmagados pelos esquemas sociais, seja nos cenários internacionais, onde o poder, conservando sua hipocrisia e ferocidade, enverga roupagens mais vistosas. Sem tomar partido por qualquer facção, a sátira de Glauco Mattoso parece inesgotável. Parte do cotidiano pessoal, passa pelas relações sociais e chega aos embates internacionais. Termina num terreno que seria o da transcendência, não fora seu intransigente apego a um “real” visto como abjeto. Em pelo menos três sonetos – 140 (“Revoltado”), 371 (“Hediondo”) e 923 (“Anti-governamental”), a persona poética questiona um Deus que responsabiliza por todos os males pessoais e universais. No primeiro soneto, soa a dor individual do cego:
Mas mais cruel, covarde e prepotente
é o Deus Onipotente que nos cria
a fim de judiar, unicamente.
Foi Ele quem, à minha revelia,
cegou-me e fez de mim um penitente
que apenas desabafa em poesia.
(Soneto 140, “Revoltado”).
Soneto 371 (“Hediondo”) novamente responsabiliza a divindade pelo sofrimento humano; lavra sentença contra esse réu divino, que, como costuma ocorrer entre os homens, permanece impune:
Na certa o Onipotente é quem responde
por tudo que acontece pra quem erra,
e atrás da impunidade Ele se esconde.
Levá-lo a Nuremberg, após a guerra!
Puni-lo com prisão perpétua! E onde?
No inferno que pra nós criou: a Terra
O cultor do abjeto propõe, assim, uma espécie de justiça poética: a punição para a entidade suprema, a quem, segundo ele, cabe a responsabilidade última pelos desatinos dos homens. Face a denúncias tão bem articuladas, cunhadas numa linguagem à qual não falta humor e lavor literário, seria difícil negar à arte abjeta sua função satírica no desolado cenário contemporâneo.
ABSTRACT
Summing up the foundations of abject and “body art”, the article analyses some of their manifestations in contemporary Literature and in the Visual Arts, with special focus on the use of the coprophagic text as an instrument of social satire in Glauco Mattoso´s poetry. KEY WORDS: abject art, the coprophagic text, Glauco Mattoso, literature and the arts in contemporary Brazil.
REFERÊNCIAS
BUTTERMAN, Steven F.. Perversions on Parade; Brazilian Literature of Transgression and Postmodern Anti-Aesthetics in Glauco Mattoso. San Diego: San Diego State UP; Hyperbole Books, 2005.
DANIEL, Cláudio; BARBOSA, Frederico (orgs). Na virada do século. Poesia de invenção no Brasil. São Paulo: Landy, 2002.
DANTO, Arthur. The Abuse of Beauty. Aesthetics and the concept of art. The
Paul Carus Lectures. Chicago and La Salle, Illnois: Open Court, 2003.
DURANT, Gilbert. Les Structures Anthropologiques de L´Imaginaire. Paris: Presses Universitaires de France, 1963.
FOSTER, Hal. The Return of the Real. The Avant-Garde at the End of the
Century. Cambridge, Massachussetts, London: An October Book, 1996.
GREIMAS, A. J.. Pour une Sémiotique de l´Espace. Paris: Éditions Denoel Gonthier, 1979.
HOBSBAWM, Eric. Era dos extremos. O breve século XX, 1914-1991. Trad.
Marcos Santarrita. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1994.
KRISTEVA, Julia. Pouvoirs de l’horreur. Essai sur l’Abjection. Paris: Gallimard, 1980.
LEFEBVRE, Henri. La Production de l´Espace. Paris: Anthropos, 1986.
MASSI, Augusto (org). Artes e ofícios da poesia. Porto Alegre: Artes e Ofícios, 1991.
MATTOSO, Glauco. Dicionarinho do palavrão & correlatos. São Paulo: Record,2005.
______. Manifesto coprofágico. In: MASSI, Augusto (org.). Artes e ofícios da
poesia. Porto Alegre: Artes e Ofícios, 1991, p. 171.
______. Manifesto obsoneto. In: DANIEL, Cláudio; BARBOSA, Frederico (orgs).Na virada do século. Poesia de invenção no Brasil. São Paulo: Landy, 2002, p.164.
______. Manual do podólatra. Disponível em:<http://glaucomattoso.sites.uol.com.br>. Acesso em: 5 set. 2006. [Página aos cuida-dos de Pop Box Web Design. Copyright © 2004 do autor].
______. O poeta põe, a crítica tica. In: MASSI, Augusto (org.). Artes e ofícios
da poesia. Porto Alegre: Artes e Ofícios, 1991, p. 162-170.
MORAES, Eliane Robert. O corpo impossível. São Paulo: Iluminuras, 2002.
SELINGMAN-SILVA, Márcio. Dor, terror e morte nas tradições clássica, cristã e romântica. Insight. Psicoterapia e Psicanálise, ano IX, n. 101, p. 8-15, nov. 1999.
______. O testemunho na era das catástrofes. São Paulo: UNICAMP/FAPESP, 2003.
UOL ONLINE. Leo Messi e Bento XVI, protagonistas escatológicos dos presépios catalães. Seção Diversão e Arte. Acesso em: 21 dez. 2006.
YEATS, William Butler. Crazy Jane talks with the Bishop. Words for Music
Perhaps. In: ______. Collected Poems of W.B. Yeats. London: Macmillan &
Co., 1963.
NOTA
1 Para o tratamento da oposição entre verticalidade e horizontalidade, cf.
GREIMAS (1979), DURANT (1963) e LEVEBVRE (1986).