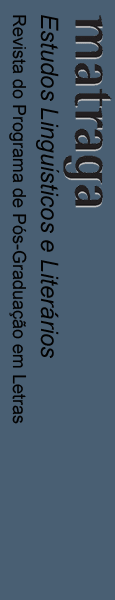MATRAGA 20
LÍNGUA(S), SUJEITO(S) E CIDADANIA(S)
Márcia Atálla Pietroluongo (UFRJ)
RESUMO
Breve reflexão sobre o lugar do professor de línguas (materna e estrangeira) e sobre o papel da(s) língua(s) na formação da identidade e da cidadania. PALAVRAS-CHAVE: língua (materna e estrangeira), identidade, cidadania, produção de sentido(s)
O que pode, em sociedades fortemente contagiadas pela lógica do mercado, imperativa do modo de produção capitalista, um professor? Este personagem da vida social brasileira atual, marcado por uma quase senão total falta de prestígio e de glamour? Em que reside a especificidade de seu lugar? E mais detidamente, o que faz e o que pode um professor de língua — materna e estrangeira — num país onde muito poucos têm algum conhecimento consistente e estruturado sobre sua própria língua?
A julgar pela maneira como as políticas públicas brasileiras desconhecem na prática social (não no discurso) prioridades, planos de estruturação, vetores de sedimentação de conhecimentos e de disseminação que se mostrem eficazes para abarcar um número verdadeiramente significativo de brasileiros, a educação neste país é um nãovalor, sobretudo, quando dirigida às classes socialmente desfavorecidas. Opera-se politicamente nas esferas do ensino público fundamental e médio como se as habilidades exigidas dos mais pobres fossem quase exclusivamente um domínio elementar das quatro operações matemáticas e um conhecimento mínimo da língua materna, capaz de promover uma aptidão para a escrita e leitura.
Não se trata aqui, evidentemente, nem de produção escrita nem de compreensão leitora. Neste âmbito, escrita se limita à produção de frases ou de textos curtos com objetivo de comunicação funcional; e leitura significa uma decodificação razoável dos símbolos lingüísticos, não remetendo a uma interpretação crítica de textos e discursos.
A educação é tanto mais inconveniente quanto mais for capaz de atuar de modo definitivo na construção de uma concepção nacional de cidadania. Pois, como lembra Milton Santos, “há cidadania e cidadania. Nos países subdesenvolvidos de um modo geral há cidadãos de classes diversas, há os que são mais cidadãos, os que são menos cidadãos e os que nem mesmo o são” (SANTOS, 1996, p.12).
Todavia, mesmo entre os mais cidadãos, as elites econômicofinanceiras do país, a educação parece não ter se constituído historicamente no imaginário social como um bem cultural forte, provedor de valores. Vigora, ainda, um imaginário duradouro e bastante eficaz segundo o qual a produção de riqueza individual se deve menos ao capital cultural balizado por um trajeto educacional estruturado e consistente do que pela estrela e capacidade empreendedora de indivíduos que fazem acontecer, nem sempre por meios tão lícitos, os fins valendo os meios.
Na teoria de Pierre Bourdieu (1979), a noção de capital cultural surge na tentativa de explicar a desigualdade no desempenho escolar de crianças de diferentes classes sociais, rompendo com a visão segundo a qual o sucesso escolar, ou seu inverso, se deveria a aptidões naturais dos indivíduos. Para o sociólogo, o capital cultural se apresenta de três formas: no estado incorporado, no estado objetivado e no estado institucionalizado. A primeira forma supõe que a apropriação do capital cultural se faz por uma incorporação, uma inculcação e uma assimilação; a segunda diz respeito à aquisição de bens culturais como quadros, livros, etc; a terceira forma do capital cultural é adquirida através de um certificado, de um diploma que atribui propriedades a seu possuidor.
Na educação dirigida às elites, prepondera o ensino de saberes mais e mais hiper-especializados de domínios específicos do conhecimento, com uma grande preferência pelos campos médico e tecnológico, objetos de maior prestígio social. Aqui, contudo, não se trata igualmente de formar sujeitos com uma capacidade de reflexão e de compreensão do espaço social em que se movem. A instrumentalização e a compartimentalização do conhecimento é a norma. Nesta esfera, a capacidade de interpretação dos discursos sociais vincula-se eminentemente a posições de classe e à preservação dos valores éticos e corporativos de cada segmento da sociedade.
Se, por um lado, observa-se um vácuo, aparentemente intransponível no momento histórico em que vivemos, no que tange ao acesso ao conhecimento, às diversas formas de educar e, como conseqüência, às perspectivas de abertura para o mercado de trabalho entre os diferentes estratos sociais; por outro, guardados os largos antagonismos do ensino para pobres e para ricos1, aprofunda-se uma comum mutilação da possibilidade subjetiva de produção de sentidos.
Reconhece-se um não favorecimento voluntário e um empedramento ostensivo ao trabalho da interpretação, impedindo que algo do sujeito possa fazer sentido nas redes sócio-discursivas em que se insere. Para que se possa fazer sentido, é necessário que haja lugar também para o advento do novo, para a polissemia e, não apenas para a inscrição no eterno repetível ao qual estão fadados, em sua maioria, os sujeitos submetidos a esta ótica educacional dominante, presente em ambos os tipos de ensino.
O lugar da interpretação é aquele onde o político, o histórico e o ideológico se interpenetram. Ao interpretar, o sujeito é chamado a tomar posição. Contudo, quando falta a língua, ou seja, as condições de expressão que permitem que o sujeito (se) traduza numa cadeia simbólica, falta a possibilidade de figuração, escapam os sentidos, resvalam os sujeitos.
Como salienta Eni Orlandi:
Certamente a vida aí se põe em questão. Porque o espaço da interpretação é o espaço do possível, da falha, do efeito metafórico, do equívoco em suma: do trabalho da história e do significante, em outras palavras, do trabalho do sujeito (1996, p.22).
A relação do sujeito com a língua é determinante de sua maneira de ser e de estar no mundo. Longe de uma concepção instrumental da língua como uma ferramenta de comunicação, esta relação é estruturadora da subjetividade. Sua capacidade de interpretação passa pela estreita inserção deste no universo simbólico aberto por sua língua materna.
Citando ainda Orlandi (1999, p.205):
Os sentidos não são algo que se dá independentemente do sujeito. Ao significar, nos significamos. Sujeito e sentido se configuram ao mesmo tempo e é nisto que consistem os processos de identificação. Os
mecanismos de produção de sentidos são também os mecanismos de produção dos sujeitos. Eles implicam, por sua vez, uma relação da língua (sistema capaz de equívoco) com a história, funcionando ideologicamente (relação necessária do simbólico com o imaginário).
Nossa relação com o outro, com o social passa pelo condicionamento das lógicas impostas, propostas por nossa língua. Ela nos ensina comportamentos, atitudes, modos de ver, de sentir, de pensar e de sonhar. “Tudo o que nos acontece poeticamente, politicamente, nos acontece na e pela língua” (MESCHONNIC, 1997, p.9). É assim que aprendemos a ser quem somos e a tomar posição numa estrutura que nos é preexistente. É nesse sentido que Jacques Lacan (1966) afirma que “na linguagem, nossa mensagem nos vem do Outro”.
Entretanto, nem todas as posições estão disponíveis para nós, há modos possíveis de inscrição no simbólico que se estabelecem a partir das formações sociais e ideológicas a que pertencemos. A inscrição nos diferentes campos supõe tomadas de posição que se constroem discursiva e ideologicamente. Tais posições diferem não somente no interior da própria língua materna, mas igualmente no âmbito da língua estrangeira. Cada língua dispõe de uma gama de posições subjetivas que não são, evidentemente, escolhidas de maneira consciente e autônoma pelos sujeitos.
Não pensamos, aqui, sujeitos como remetidos a totalidades de individuação. Pensamos sujeito como alguém que resulta dos efeitos (in)voluntários de sua inserção no social e suas formações ideológicas, mas igualmente como efeito da forma particular como o inconsciente nele atua. Isto significa dizer que estamos muito longe de uma concepção que autoriza a pensar em atores cuja enunciação é controlada por estratégias discursivas. Indivíduos que saberiam o que dizem, que diriam exatamente aquilo que querem dizer numa formulação adequada e previamente concebida.
Esta ilusão, denunciada por Michel Pêcheux (1969, 1975), de se estar na origem de sua própria enunciação se inscreve no âmbito de uma concepção idealista de sujeito, cara às teorias da enunciação formuladas por Émile Benveniste e Roman Jakobson. Quanto mais temos a ilusão de que pensamos e enunciamos livremente, mais nos assujeitamos acriticamente às injunções que nos vêm do social. Ao compreendermos a complexidade dos processos de identificação que nos pinçam em redes de construção de sentidos, passamos a ter uma outra inserção nestas redes e a poder desenvolver uma nova relação com os sentidos, com nós mesmos e com o outro.
Tal posição imaginária é em grande parte encenada, hoje, por certas teorias lingüísticas como a Pragmática e a Sociolingüística, cujas representações de língua e de sujeito são muito vigorosas no campo das metodologias de ensino de língua materna e estrangeira. Com efeito, no campo da Lingüística Aplicada ao ensino de línguas estrangeiras, costuma-se pensar sujeito, língua, cultura e sociedade, como se fossem entidades compactas e cristalizadas e como se estes não fossem atravessados pela heterogeneidade radical de que são constituídos. Toma-se língua e cultura numa visão hegemônica, fazendo de conta que existe apenas A Língua e A Cultura nacionais, priorizando em função desse ponto de vista uma de suas variantes, notadamente a mais prestigiosa, variante resultante de estereótipos ou de uma forte idealização ideologicamente marcada e desconsiderando o imaginário, a fragmentação e a difração que caracteriza esses conceitos.
Na contracorrente destas teorias, Silvana Serrani reitera que no encontro com mais de uma língua nacional, o eu, de fato, terá encontros com redes de memórias discursivas nas quais se inscreverá por filiações identificatórias. Não se trata de “aprendizagens por interação”, ao menos não como essa “interação” tem sido concebida com freqüência nos estudos de Lingüística Aplicada dedicados à “aquisição” de segundas línguas, isto é, pressupondo uma concepção de subjetividade restrita à de indivíduo autônomo que “interage” com outros indivíduos completos que decidem livremente sobre o que fa-lam e as palavras referem um mundo já dado (SERRANI, 1999, p. 253-254).
Silvana Serrani defende a posição segundo a qual
a formação de um docente de línguas como interculturalista requer capacitação para que ele não conceba seu objeto de ensino — a língua — como um mero instrumento a ser “dominado” pelo aluno, segundo progressões de complexidade apenas morfossintática ou de apresentação de situações “comunicativas”. O perfil de interculturalista, sensível aos processos discursivos, requer que o profissional considere especialmente, em sua prática, os processos de produção-compreensão do discurso, relacionados diretamente à identidade sócio-cultural. Cabe lembrar aqui que o descentramento da subjetividade introduzido pela noção de inconsciente e pela concepção polifônica da linguagem problematiza a concepção tradicional — monolítica — de identidade sociocultural (SERRANI, 2005, p.17-18).
Levando todos esses aspectos em consideração, a fundamentação do trabalho de um professor de língua estrangeira deve, pois, suscitar uma reflexão, que permitirá uma posterior inserção, sobre as diversas formas pelas quais o interdiscurso — compreendido como as memórias discursivas que estão na base da constituição de sentidos de cada campo do saber — funciona na língua materna e na língua estrangeira. Ao promover o encontro com memórias discursivas da língua estrangeira, necessariamente diversas daquelas da língua materna, o professor coloca o aluno diante de uma dimensão fundamental de mudanças na simbolização e, conseqüentemente, interfere em sua construção de sentidos e na constituição de sua identidade. Este fenômeno de intervenção na subjetividade que caracteriza o lugar do professor já ocorre em língua materna, como sustenta Eni Orlandi:
Como tenho observado, na escola, quando o professor corrige o aluno, ele intervém nos sentidos que este aluno está produzindo e, no mesmo gesto, está interferindo na constituição de sua identidade. E isso não é pouca coisa (ORLANDI, 1999, p. 205).
Este espaço privilegiado de articulação sobre os sentidos e os sujeitos que despontam caracteriza o trabalho do professor. E, aqui, talvez, seja essencial uma boa dose de esquecimento de tudo quanto do saber pode ter se petrificado por excesso de certezas, por inércia de buscar o novo, pelo vício de se tomar sempre os mesmos pontos de vista. Para fazer funcionar esse processo em condições desejáveis, é preciso numa boa medida esquecer que se sabe, esquecer o que se sabe.
Contrariamente à crença corrente, o fazer de um professor não se sustenta (ou não deveria se sustentar) naquilo que ele sabe ou imagina saber, mas deveria antes se afirmar numa posição despojada, e nem por isso menos inteira, de curiosidade diante do saber. Ao buscar estabelecer uma relação não endurecida, não se comportando de forma excessivamente reverente diante dos saberes adquiridos, mas trabalhando a tradição em estreita conjunção com a contemporaneidade de seu campo de saber, o professor pode sedimentar uma relação estimulante com o conhecimento que contribua para que o sujeito se coloque numa posição mais vigorosa e desejante.
Se pensarmos em termos das modalidades do querer, do saber e do poder, essenciais na construção de qualquer narrativa, e considerando que a trajetória de um sujeito no “mundo” não é menos “ficcional” meramente por se reportar ao dito “mundo real”, diríamos que uma posição interessante para o professor seria a de poder se fundar no querer-saber. Posição que se instaura a partir do reconhecimento que de um lugar de não-saber pode advir aventura, desconserto, ruptura, deslocamento, migração e sedimentação de (novos) sentidos.
Por um lado, se, como salientamos, este trabalho sobre sentidos e sujeitos, que uma certa posição do professor pode contribuir para mobilizar, se fundamenta num esquecimento; por outro, é necessário com a mesma ênfase que uma forte, viva e reatualizada lembrança venha sustentá-lo. A lembrança de que a especificidade do lugar do professor ideológica e imaginariamente é aquela de desvendar conhecimentos, de ajudar a ver, de mostrar caminhos, permitindo que os sujeitos sejam colocados diante do advento de uma interpretação crítica, objeto de reflexão e de elaboração, que historicize suas tomadas de posição para que na complexidade da discursividade não lhes falte a língua.
O lugar do professor tem esta particularidade fundamental de poder tocar o outro, quando ambos reconhecem que o conhecimento pode ser transformador. O conhecimento pode, de fato, implicar numa mudança profunda das bases em que o sujeito se assenta, em sua ótica, em sua visão de mundo, em sua relação com a alteridade. O professor deve, pois, preparar os sujeitos para que, no jogo do social, onde tudo conspira para a indiferenciação e para a utilitarização de processos e relações, eles possam escapar, por estarem mais articulados, das armadilhas e artimanhas da instrumentalização das ditas competências lingüísticas que os tornam meros consumidores e usuários de uma língua que mal possuem.
Como denuncia Milton Santos, um dos efeitos nefastos dos tempos atuais é o fato de que “em lugar do cidadão formou-se um consumidor, que aceita ser chamado de usuário” (SANTOS, 1996, p. 13). Na contemporaneidade, a reivindicação maior parece ser a de possuir, como se o reconhecimento da própria subjetividade passasse necessariamente pela aptidão a adquirir bens de consumo, quase sempre descartáveis. “Nesse quadro de vida, a existência é vivida não tanto para a consagração dos valores, mas para a busca das coisas, o produtor se tornando submisso ao objeto produzido” (SANTOS, 1996, p.37).
O mesmo tende a acontecer no uso da língua, quando utilizada meramente como instrumento de comunicação. Os falantes funcionam imaginariamente como usuários de um bem de consumo. E para fazer frente a este quadro desestimulante, é fundamental propor um trabalho que coloque os sujeitos na possibilidade de habitar a língua, mobiliando-a, trazendo algo de seu. É preciso que eles possam, antes de tudo, se reconhecer cidadãos de sua(s) própria(s) língua(s).
A questão da cidadania em nosso país é tanto mais grave na medida em que não traduz um estatuto enraizado de sujeito na cultura nacional. Como enfatiza Eni Orlandi :
no Brasil, mesmo que o Estado já se tenha constituído formalmente há mais de um século, não se nasce cidadão. Não se trata assim de uma questão jurídico-política. As leis são uma projeção de um desejo. Essa tarefa — de transformação e não de direito: “virar cidadão” — fica para a educação, ou seja, é uma questão pedagógica que pode ou não atingir o sujeito social brasileiro. O que [a] leva a afirmar que não temos em nossa história lugar efetivo que corresponda à constituição histórica de um lugar de cidadania (ORLANDI, 2002, p.227-228).
Donde, a Educação de qualidade para todos, e de preferência pública, poderia contribuir fundamentalmente para a estruturação deste lugar. Um espaço mental de (re)conhecimento das bases constitutivas de um direito cidadão, mas igualmente um espaço social mediado não tão somente pela clivagem maciça acentuada pela desigualdade de acesso e de condições que marca o estatuto da vida pública em nosso país.
Longe de ser um trabalho neutro, o saber-fazer de um professor obrigatoriamente interfere, intervém, faz deslocar, desestrutura e contribui para reestruturar em outras bases a subjetividade de seus alunos e isto é extremamente grave de conseqüências que podem ser muito positivas, sobretudo, quando se consegue colocá-los num outro lugar de reflexão e compreensão. Trata-se, portanto, para o professor de língua materna e estrangeira, de preparar(-se) para fazer advir, de semear o terreno para criar condições para que algo do(s) sentido(s) e do(s) sujeito(s) desponte. Algo que o sujeito não obrigatoriamente chegará a formalizar, mas que apontará com suas potencialidades de sentidos, tornando o sujeito sempre um outro a buscar descobrir-se. Algo sabe nele e aí, então, ele é, ele pode ser. O poder de se perder na linguagem para tornar-se alguém menos imóvel, menos endurecido, menos siderado pelas relações que estabelecera anteriormente com um certo modo de olhar e de ser na língua que o constitui.
ABSTRACT
LANGUAGE(S),IDENTITY(IES), CITIZENSHIP(S) This paper will discuss the place of teaching in a language and in a foreign language. It will be asked also the role of language for identity formation and citizenship. KEY WORDS: teaching, (foreign) language, identity, production of meaning; citizenship
REFERÊNCIAS
BOURDIEU, Pierre. Les trois états du capital culturel In : Actes de la Recherche en Sciences Sociales, Paris n.30, novembre 1979, p.3-6.
_____. Le capital social — notes provisoires In : Actes de la Recherche en Sciences Sociales, Paris n.31, janvier 1980, p.2-3.
LACAN, Jacques. Écrits I. Paris : Seuil, 1966.
MESCHONNIC, Henri. De la langue française. Essai sur une clarté obscure. Paris, Hachette, 1997.
ORLANDI, Eni Pulcinelli. Interpretação. Autoria, leitura e efeitos do trabalho simbólico. Petrópolis: Rio de Janeiro: Vozes, 1996.
_____. Língua e Conhecimento Lingüístico. Para uma História das Idéias no Brasil. São Paulo: Cortez, 2002.
_____. Identidade lingüística escolar. In : SIGNORINI, Inês (org). Língua(gem) e Identidade: elementos para uma discussão no campo aplicado. Campinas: Mercado das Letras; São Paulo:Fapesp, 2001, p.203-212.
PÊCHEUX, Michel. Analyse automatique du discours. Paris:Dunod, 1969.
PÊCHEUX, M. & FUCHS, Cathérine. Mises au point et perspectives à propos de l´analyse automatique du discours. Langages 37, p.7-80, 1975.
SANTOS, Milton. O Espaço do Cidadão. São Paulo: Nobel, 1996.
SERRANI, Silvana. Identidades e segundas línguas: as identificações no dis curso. In : SIGNORINI, Inês (org). Língua(gem) e Identidade: elementos para uma discussão no campo aplicado. Campinas: Mercado das Letras; São Paulo:Fapesp, 2001, p.231-261.
_____. Discurso e Cultura na aula de língua. Currículo-Leitura. Escrita: São Paulo: Pontes, 2005.
NOTAS
1 Não somente as graves discrepâncias quanto ao ensino, mas também quanto às dimensões abertas pelo que Bourdieu (1980) chama de capital social, vinculado a uma rede durável de relações, às trocas materiais e simbólicas e aos recursos que o pertencimento a um determinado grupo traz ou pode trazer ao indivíduo.