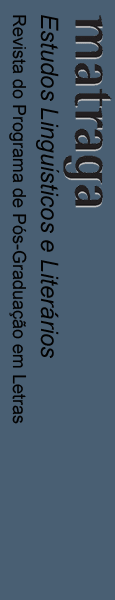MATRAGA 20
PERCURSOS DA ENUNCIAÇÃO EM ANÁLISE DO DISCURSO
Bruno Deusdará (UERJ/ SEE-RJ)
Isabel Cristina Rodrigues (UERJ)
Cenas da enunciação (Criar Edições, 2006) reúne um conjunto de textos de Dominique Maingueneau, autor cujas reflexões teóricas interessam, em especial, àqueles que se dedicam a pesquisas de linguagem no âmbito da enunciação e do discurso. O livro, organizado por Sírio Possenti (Unicamp) e Maria Cecília Pérez de Souza-e-Silva (PUC-SP), é dividido em três partes: “Generalidades sobre análise do discurso”, “Conceitos da análise do discurso” e “Trabalhos sobre corpora”.
Na Parte I, entre as “generalidades sobre a análise do discurso”
(doravante AD), discutem-se questões que têm como pano de fundo o
percurso da AD como “perspectiva não prevista no campo dos saberes”.
No primeiro artigo, “Unidades tópicas e não-tópicas”, a trajetória da noção de formação discursiva (FD) motiva uma reflexão sobre a natureza das unidades com as quais trabalham os analistas do discurso, bem como a da própria disciplina à qual se filiam.
Advertindo que o emprego dessa noção tem-se dado “na falta de uma expressão melhor”, Maingueneau retoma, primeiramente, sua “dupla paternidade”, atribuída a M. Foucault – para quem tal noção oscila entre a regularidade e a dispersão – e a M. Pêcheux – cuja definição de FD se propõe em relação às “formações ideológicas” e à “posição” na luta de classes. Em seguida, define dois grandes grupos de unidades, com o cuidado de explicitar a linha tênue que os divide: o das unidades tópicas (correspondentes a espaços já pré-delineados nas práticas verbais) e o das não-tópicas (construídas pelo pesquisador independentemente das fronteiras preestabelecidas). O autor finaliza o artigo destacando de que modo a persistência da noção de FD parece evidenciar a heterogeneidade que caracteriza o campo da AD.
O segundo artigo – “Arqueologia e análise do discurso” – focaliza a possível contribuição de Foucault ao campo da AD. Na primeira seção, Maingueneau aponta alguns elementos que, segundo ele, “tornam difícil a exploração do procedimento de A arqueologia do saber”. Entre as dificuldades apontadas estão o entrelaçamento de modos de apresentação filosóficos e procedimentos clássicos nas ciências sociais; a restrição do corpus de referência frente à vastidão e profundidade de fenômenos que pretende discutir; a proposta de análise situada no nível pré-lingüístico; e, por fim, a restrição, partindo de uma perspectiva parcial das ciências da linguagem, do campo do discurso à arqueologia. Na segunda seção, explicitam-se “idéias-força”, possíveis contribuições de A arqueologia para uma AD de base enunciativa. Entre elas: a afirmação da “opacidade do discurso” e da irredutibilidade da ordem do discurso, a problemática do arquivo, a distância em relação à hermenêutica espontânea e a abertura para a reflexão sobre os “discursos constituintes”.
Na Parte II, concentra-se a discussão de conceitos caros ao au-tor, a começar pela categoria de discursos constituintes, uma unidade que agruparia em nossa sociedade, herdeira do mundo grego, discursos como o religioso, o filosófico, o literário e o científico. Maingueneau observa que esses discursos são constituintes no sentido de que “não reconhecem outra autoridade que não a própria”, assumindo a função simbólica de archeion – palavra grega cuja polissemia permite definila como “a sede da autoridade”. Assim, essa noção de constituição, muitas vezes erroneamente confundida com a de discurso fundador, apontaria para um dispositivo enunciativo responsável pela própria existência, como manifestação de uma Fonte que o legitimaria – o “Verbo revelado”, a “Razão” etc. Esses discursos dariam sentido aos atos da coletividade, servindo de norma e garantia aos comportamentos desta, o que configura um caráter “jurídico-político” em tais discursos. Trata-se de um artigo inédito, que procura sintetizar diversos textos sobre o assunto publicados por Maingueneau desde 1995.
Em “Problemas de ethos”, retoma-se a discussão desta noção que, como é salientado no artigo, possui “vocação interdisciplinar”. De início, o autor refaz um certo percurso pelas principais características do ethos na tradição retórica, salientando idéias presentes em Aristóteles congruentes com reflexões atuais no domínio da AD. Sem deixar de apontar as dificuldades para se “estabilizar” um tipo de conceito como esse, Maingueneau expõe sua concepção em dois interessantes caminhos: associando ethos à imagem de um “corpo do enunciador” – um “fiador” que atestaria o que é dito por meio de seu “tom” – e enfatizando a relação entre ethos e a construção da cena da enunciação.
A problemática da citação atravessa os outros dois artigos que compõem a Parte II. Em “Citação e destacabilidade”, Maingueneau propõe pensar o “destacamento” dos enunciados não só a partir das seqüências “destacadas”, mas também considerando-se as condições que permitem que enunciados sejam “destacáveis”. No artigo, discutem-se essas condições e seus efeitos, remetendo à máxima heróica e à fórmula filosófica. Nesse contexto, Maingueneau introduz a noção de sobreasseveração, que pode instituir uma tomada de posição e “amplificar” a figura do enunciador. As reflexões presentes neste artigo vêm sendo reformuladas pelo autor.
A noção de hiperenunciador tem lugar, no artigo homônimo, a partir da discussão acerca de um sistema singular de citação denominado particitação (palavra-valise que pretende articular as noções de participação e citação). No artigo, ressaltam-se alguns aspectos da particitação, tais como a ausência de indicação da fonte da fala, a autonomia dada ao enunciado “citado” e, como efeito disso, a adesão do locutor ao ponto de vista mobilizado por esse enunciado. Dada a relação estreita que se estabelece entre os sistemas de particitação e a diversidade de situações sócio-históricas, o artigo segue distinguindo algumas famílias de particitação: as sentenciosas, as gráficas e as de grupo. Em seguida, discute-se a noção de hiperenunciador como instância que evidencia o pertencimento dos co-enunciadores a uma mesma comunidade, compartilhando um thesaurus de enunciados.
O debate público encenado numa relação epistolar e dois tipos específicos de relatório – o de organizações internacionais e o de sessões de defesa de tese na França – são os corpora sobre os quais se detém Dominique Maingueneau na Parte III do livro.
Questões relativas à cena de enunciação são referidas ao longo de todo o livro, como o próprio título já insinua. Em “Cenografia epistolar e debate público”, revisita-se detidamente essa categoria quando o autor analisa as Provinciais de Pascal (meados do século XVII) e a “Carta a todos os franceses” de François Mitterand (final do século XX). Em termos de gênero, as primeiras representam um conjunto de libelos integrantes de uma controvérsia religiosa; já a segunda, um programa de campanha presidencial. Mas o que ganha relevância nessa análise é o fato de tanto as Provinciais quanto a Carta do presidente francês, que não são definidas como gêneros epistolares, valerem-se da cenografia da carta privada para agir sobre o espaço público.
No penúltimo artigo, o autor indaga se o discurso das organizações internacionais seria um discurso constituinte – no caso, investigando o gênero “relatório”, documento privilegiado por meio do qual tais instituições oferecem uma representação de si mesmas. Aqui, procura-se evidenciar como esses textos, que configuram um plano de trabalho de um grupo determinado de atores políticos, produzem um efeito de universalidade, como se estivessem falando em nome de uma Fonte de onde emanam princípios condutores para a sociedade. O au-tor avalia, no entanto, a fragilidade dessa tentativa, concluindo que a conexão entre uma possível autoridade dos relatórios das organizações internacionais e a dos discursos constituintes só se atualiza sob a forma de simulacro.
Finalmente, o último artigo – “Análise de um gênero acadêmico”
– faz uma recapitulação de questões pertinentes ao estudo dos gêneros de discurso. Na presente análise, Maingueneau considera produtiva a distinção entre gêneros conversacionais e gêneros instituídos, focalizando os últimos: gêneros que não implicam interação imediata e que variam numa escala que indica o grau de “liberdade” do falante em elaborar uma cenografia. No gênero acadêmico investigado, essa “liberdade” é vista como reduzida, pois o falante precisa produzir enunciados singulares, ao mesmo tempo que obedece a um roteiro bastante rígido. As conclusões acabam por ressaltar a imbricação entre texto e lugar social – que também percorre todo o livro –, mostrando a dinâmica entre “propriedades lingüísticas” e “propriedades de comunidades discursivas”. E, em que pesem as peculiaridades do sistema francês apresentado, o artigo também possibilita indagações acerca das relações acadêmicas brasileiras.
Ao longo do livro, como se pode observar, o leitor se depara com temas recorrentes nas pesquisas de Dominique Maingueneau – como ethos, cenografia, interlíngua – e outros que vêm merecendo mais destaque do autor recentemente – como hiperenunciador, destacabilidade, particitação. São nove artigos que, certamente, trazem à cena reflexões que contribuem para aprofundamento dos estudos discursivos. Para finalizar, destaquem-se as traduções assinadas pelos organizadores e pelos seguintes pesquisadores: Décio Rocha, Fábio César Montanheiro, Graziela Zanin Kronka, Marcela Franco Fossey, Nelson Barros da Costa e Roberto Leiser Baronas.
REFERÊNCIA
MAINGUENEAU, Dominique. Cenas da enunciação. Org. por Sírio Possenti e Maria Cecília Pérez de Souza-e-Silva. Curitiba: Criar, 2006, 181 páginas.